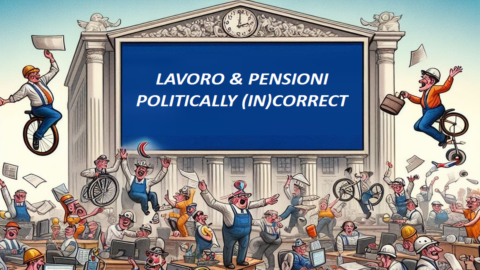Por que os Estados Unidos soaram o alarme sobre a crise europeia? A pressão vem acontecendo desde o outono passado com um crescendo que culminou no duro confronto do G7 financeiro. E ontem o presidente dos EUA voltou ao cargo. A explicação mais óbvia é que Barack Obama teme não ser reeleito em novembro próximo. O risco é alto, Romney está se consolidando e, sem uma recuperação robusta, é muito mais provável que os eleitores queiram mudanças de qualquer maneira. Afinal, esse é o clima que sopra em todos os países, a América certamente não está imune. Pelo contrário. As pessoas comuns estão convencidas de que os Estados Unidos ainda estão em recessão, apesar de o produto bruto crescer sem interrupção desde 2010. Mas o crescimento asfixiado pelos padrões da estrela e listras, o desemprego que continua alto, as famílias lutando para reduzir suas dívidas, o mercado imobiliário parado, tudo isso transforma os números oficiais em uma ilusão estatística.
Portanto, os EUA não são mais capazes de atuar como uma locomotiva da economia. A esperança de que poderia ser a China desapareceu à medida que a fábrica mundial desacelera. Até certo ponto, é bom para reduzir a inflação doméstica e desinflar a bolha imobiliária antes que ela estoure. Mas o impacto na demanda internacional é negativo. Portanto, caberia à Europa pegar na tocha, mas nestas condições a UE é um lastro.
No novo paradigma pós Guerra Fria, a segurança econômica é uma questão de segurança nacional para os americanos. O Instituto de Estudos Estratégicos explica isso muito bem em uma pesquisa com curadoria de Sheila R. Ronis, que lidera o projeto de reforma da segurança nacional determinado pelo Congresso. Bill Clinton ele colocou em preto e branco. Com Roberto Rubin, “o Cavour da globalização”, como John Morton o chama, set i três princípios orientadores: os Estados Unidos deveriam funcionar como o facilitador, o relé de um único mercado global e manter a paz e a estabilidade de modo a permitir o bom funcionamento do sistema multilateral de trocas mercantis e financeiras. Rubin trabalhou com Larry Summers e Tim Geithner. Mas o banqueiro central, Alan Greenspan, também compartilhava da mesma abordagem e, para fazer o mecanismo funcionar melhor, havia aconselhado o jovem presidente a restaurar as finanças públicas e equilibrar o orçamento. George W. Bush também se manteve fiel a essa doutrina, assim como Barack Obama, ainda mais depois da nova aliança com Clinton.
Após o 11 de setembro, o grande medo era que começasse um ataque financeiro que derrubaria Wall Street. Daí a ordem de imprimir dinheiro a uma velocidade vertiginosa. Ele conta isso Greenspan em sua autobiografia e aqui está a raiz dos "erros" de política monetária cometidos nos anos seguintes: ninguém teve vontade de esvaziar a grande bolha naquele momento. No balanço econômico-político desta nova década, fica claro que as áreas de primeira importância estratégica circundam dois mares: o Mediterrâneo e o Mar da China. Para controlar esta última, os EUA contam com o Japão e, cada vez mais, com a Coreia do Sul e as Filipinas (para não falar que o Vietname está a tornar-se um país essencial na contenção do expansionismo chinês). Para o Mediterrâneo, precisamos da Europa. Bem, a Primavera Árabe e a guerra da Líbia mostraram que os europeus se movem em ordem aleatória, tentados pelo culto aventureiro da ação direta como no caso de Sarkozy ou pelo encanto discreto do desengajamento como no caso da Alemanha.
A própria OTAN, neste momento, está em risco. Embora pareça alarmante sob todos os pontos de vista que os três pilares da estabilidade militar no Mediterrâneo estejam enfraquecidos e abandonados a si mesmos: Itália, Grécia e Espanha. Coincidentemente, os países prostrados pela crise e ridicularizados pela Alemanha. Para a Itália, a modernização das bases militares já está em andamento e a decisão de equipar drones em território italiano com mísseis é uma mensagem clara (também diante de um possível conflito com o Irã que ninguém quer, mas do qual todos falam). Na Grécia, as estruturas-chave são os portos visados pelos chineses por razões econômicas e pelos russos por razões estratégico-militares. Quanto à Espanha, mais isolada do que a arena do Oriente Médio, não deixa de ser fundamental conter a onda social e política norte-africana.
Segurança e estabilidade, portanto, são prioridades absolutas que abarcam, sem interrupção, a política econômica, externa e militar. Os americanos gostariam que o BCE imprimisse dinheiro, comprasse títulos do governo e bancos em dificuldade, enquanto os governos alimentassem o ESM que deve começar no início de julho. Que poderia reverter as expectativas do mercado e dar pelo menos seis meses (provavelmente muito mais) para que a tragédia grega seja consumada e esperar que a Alemanha vá com menos angústia e, esperançosamente, com mais visão, à votação em setembro de 2013. Enquanto isso, o americano as eleições terão passado.
Se Obama vencer, o multipolar, aumentará sua pressão para que a Europa se torne cada vez mais um ator ativo e unificado. Se Romney vencer, quem não é isolacionista, é muito pé provável que os EUA atuem de forma mais drástica, recuperando a plena autonomia do dólar (tanto em relação ao euro quanto em relação ao yuan) e aumentando a aposta militar em apoio a Israel e contra o Irã. Nesse ponto, a Itália se torna um porta-aviões gigante.
Tudo isso faz parte do trabalho diplomático antes da G20 (nos dias 17 e 18 em Guadalajara, México). Também deve entrar na cúpula europeia no final do mês. Se a crise não for finalmente enfrentada com uma dimensão política que não seja apenas eurocêntrica, não há saída. É do interesse da Itália que isso aconteça, Mario Monti percebe isso. E desde a reunião de janeiro passado, ele destacou com razão o vínculo entre a Itália e os Estados Unidos, às vezes manchado, nunca afrouxado e mais uma vez solidificado nesta fase.
O primeiro-ministro deve, portanto, aparecer em Bruxelas com dois dossiês debaixo do braço: a crise da dívida à direita e a nova estratégia mediterrânea à esquerda. Pressionando a Alemanha sobre isso e desafiando Berlim a mostrar a solidariedade de um aliado que falhou no caso da Líbia e na estratégia de imigração ilegal (embora aqui o pior desprezo tenha vindo da França). Tudo certo, um dos erros analíticos e políticos cometidos pelos alemães é ter isolado os aspectos financeiros da crise, cobrindo-os com justificativas ético-ideológicas, ora fundadas, ora vítimas de clichês e preconceitos. O que é necessário hoje é uma abordagem global. Isso coloca responsabilidades novas e talvez ainda mais sérias nos países da linha de frente. Mas eles precisam de uma retaguarda sólida e suprimentos seguros: como qualquer bom comandante sabe, as guerras são perdidas quando as vanguardas estão isoladas. Os americanos chamam de overstretching, mas Napoleão já pagou por isso. Sem falar em Hitler.